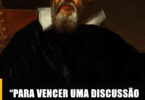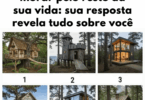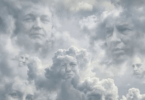Recentemente, participei de uma publicação em um post no Instagram no qual criticamos, por meio do humor, algumas práticas pseudocientíficas em saúde, como homeopatia, florais, ozonioterapia, soroterapia, terapia quântica, terapia de alcalinização, detox, entre outras intervenções sem embasamento científico. O que se seguiu foi o esperado: uma avalanche de comentários indignados, revoltados e, em muitos casos, bastante criativos na defesa dessas práticas.
Ao ler atentamente esses comentários, meu objetivo não foi o de me frustrar, mas sim transformar isso em um pequeno experimento social. Passei os dois dias seguintes coletando, transcrevendo e categorizando o material. Notei que, apesar da diversidade aparente nas respostas – algumas mais agressivas, outras mais “zen”; algumas curtas, outras verdadeiros “tratados” – todos os argumentos podiam ser agrupados em apenas cinco categorias principais.
Cada uma revela erros lógicos e uma forma de raciocínio circular que impede qualquer tipo de diálogo produtivo. Além de apontar onde os argumentos erram, meu objetivo aqui é tentar entender por que são tão persistentes e o que isso nos diz sobre como as práticas pseudocientíficas se autoperpetuam.
Categoria 1: Crítica à Indústria
O argumento mais recorrente (e o mais previsível) foi a tentativa de desviar o foco da discussão para um suposto inimigo comum: a indústria farmacêutica. “A maior picaretagem é a medicina se unir com a indústria farmacêutica e entupir o paciente de remédios para aliviar os sintomas enquanto poderiam estar tratando o problema pela raiz”, escreveu alguém. Outro comentário dizia: “O que conheço é o lucro trilionário das indústrias farmacêuticas e o mal que vários remédios fazem. Aliás, esse assunto tá indo parar na telenovela da Globo. Assista…”. E ainda: “Homeopatia só não funciona pra quem não faz uso. Quem não gosta é a indústria farmacêutica”.
À primeira vista, esses argumentos parecem ter alguma substância. É verdade que a indústria farmacêutica tem problemas, com diversas manchas em seu currículo. Mas aqui está o problema: criticar a indústria farmacêutica, mesmo de maneira legítima, não torna a homeopatia ou qualquer outra daquelas práticas eficaz. Da mesma forma, o fato de que a indústria farmacêutica lucra com a venda de medicamentos não os torna ineficazes.
Há também uma variante da falácia do tu quoque (apelo à hipocrisia). “E quanto à indústria farmacêutica?” funciona aqui como uma deflexão retórica, uma forma de evitar lidar com a crítica original. É a estratégia da criança que, quando pega fazendo algo errado, imediatamente aponta: “Mas o meu irmão também faz!”. Como se dois erros se anulassem mutuamente.
O que me surpreende é a frequência com que esse argumento vem acompanhado de uma teoria conspiratória implícita: “A indústria não quer a cura, quer manter as pessoas doentes”. Essa narrativa ignora completamente os incentivos econômicos, científicos e sociais que existem para o desenvolvimento de tratamentos reais. Ignora também exemplos concretos de tratamentos bem-sucedidos desenvolvidos pela própria indústria, como antibióticos, o tratamento para hepatite C e vários tipos de câncer. Se a indústria “não quer curar”, alguém esqueceu de avisar os pesquisadores que desenvolveram esses tratamentos.
Mais problemático ainda é que essa crítica cria uma falsa dicotomia: ou você está do lado da “medicina convencional corrupta” ou do lado das “terapias naturais honestas”. Mas a realidade não é binária assim. É perfeitamente possível (e necessário) criticar os problemas reais do sistema de saúde convencional e, simultaneamente, exigir evidências para qualquer intervenção terapêutica, seja ela alternativa ou não. A coordenação fragmentada entre especialistas, mencionada em vários comentários, é de fato um problema sério da medicina contemporânea. Mas certamente a solução não é abandonar as evidências. É melhorar essa coordenação, incorporando as evidências.
Categoria 2: “Evidências” Anedóticas
Se a primeira categoria tenta deslegitimar a crítica atacando o mensageiro, a segunda tenta validar a prática por meio de experiências pessoais. “A mãe do meu marido fez prevenção a vida inteira só com homeopatia. Resultado: 90 anos e nenhuma doença… não desenvolveu nenhum dos problemas que são considerados normais com o avanço da idade, não toma nenhum remédio…”, relatou uma pessoa com orgulho evidente. Outro comentou: “Essa é a visão limitadíssima desses profissionais. Só quem usa terapias integrativas sabe do seu valor”.
Quando algo parece ter funcionado para nós ou para alguém que amamos, é natural desenvolver uma forte convicção sobre sua eficácia. O problema está em confundir justificação pessoal com justificação científica. A sogra que viveu 90 anos usando homeopatia pode, sim, justificar a crença individual da pessoa nessa prática. Mas isso não justifica cientificamente a homeopatia. Se justificasse, teríamos que aceitar também o argumento: “Meu avô fumou três maços de cigarro por dia a vida toda e morreu aos 95 anos, logo, fumar não causa câncer e ainda por cima aumenta a longevidade”. A estrutura lógica é exatamente a mesma – e igualmente falha em ambos os casos.
O que está acontecendo aqui é uma combinação de pelo menos dois vieses cognitivos bem documentados: o viés de sobrevivência e o viés de confirmação. O viés de sobrevivência nos faz notar apenas os casos de “sucesso” (a sogra que viveu muito usando homeopatia) enquanto sistematicamente ignoramos ou não temos acesso aos inúmeros casos de pessoas que usaram homeopatia e tiveram desfechos menos favoráveis.
O viés de confirmação, por sua vez, nos leva a lembrar seletivamente das experiências que confirmam nossas crenças. Quantas vezes a sogra tomou homeopatia e não melhorou? Quantas vezes ela teve sintomas leves que teriam desaparecido sozinhos de qualquer forma? Essas informações simplesmente não ficam registradas na memória com a mesma intensidade que o caso em que homeopatia e “funcionou”.
Essa combinação acaba fornecendo o arcabouço para o problema fundamental da confusão entre correlação e causalidade. A sogra tomou homeopatia e viveu 90 anos saudáveis. Mas também comeu, dormiu, respirou, tem uma determinada genética, condições socioeconômicas específicas, talvez acesso a bons serviços de saúde. Como afirmar que foi especificamente a homeopatia que garantiu sua longevidade? A resposta honesta é: não dá para saber. Para isso, existem estudos controlados randomizados, que sistematicamente têm mostrado ausência de eficácia da homeopatia.
E aqui entra um ponto que discutimos em outro contexto: o raciocínio bayesiano. Experiências pessoais devem informar nossas crenças iniciais. Mas essas crenças precisam ser atualizadas à medida que surgem novas evidências. Uma conclusão baseada em relato individual tem probabilidade prévia extremamente baixa quando: (1) contradiz mecanismos biológicos bem estabelecidos e (2) múltiplos estudos de alta qualidade mostram ausência de efeito. Insistir no caso isolado, ignorando décadas de evidências contrárias, não é “defender sua experiência”, e sim recusar-se a atualizar crenças diante de informações melhores.
Vale ressaltar que parte dos comentários no post veio de profissionais que não pareciam ser charlatães conscientes. A sinceridade torna suas crenças ainda mais resistentes a evidências contrárias, pois questionar a eficácia de suas práticas não é visto como discussão científica, mas como ataque à identidade profissional. Isso explica por que a crítica que fizemos no post frequentemente produz um “backfire effect”, fortalecendo convicções, em vez de enfraquecê-las.
Categoria 3: Crítica ao Reducionismo
Esta foi a categoria mais filosoficamente interessante. Os argumentos aqui tentavam desqualificar a própria exigência de evidências científicas, enquadrando-a como uma forma de arrogância intelectual, ou imperialismo cultural. “Quando a ciência não consegue explicar a evidência, ela diz que não existe”, afirmou alguém categoricamente. Outro complementou: “Essa é a visão limitadíssima desses profissionais. Só quem usa terapias integrativas sabe do seu valor”. E, ainda: “A maior picaretagem é o Ocidente achar que só eles fazem medicina”.
É importante admitirmos que o colonialismo de fato desprezou, apropriou-se indevidamente ou destruiu saberes locais, o que foi posteriormente denominado “epistemicídio” (a supressão deliberada de sistemas de conhecimento não hegemônicos). Mas há uma diferença entre criticar a instrumentalização ideológica da ciência – quando ela foi manipulada para legitimar interesses coloniais e preconceitos – e atacar o método científico em si.
Há também diferença entre reconhecer limitações da ciência e usar essas limitações como desculpa para aceitar qualquer afirmação sem evidências. A ciência não diz que “o que não é explicado não existe”. O que a ciência diz é: “o que não tem evidências suficientes não deve ser aceito como verdadeiro ainda”. Isso é humildade epistêmica, não arrogância. É dizer: “Não sei, e até que saiba melhor, vou suspender meu julgamento”.
Um comentário particularmente revelador citou um médico que “trabalhou por anos no emergencial até largar tudo pra trabalhar só com homeopatia” e que dizia: “toda ciência já foi pseudociência um dia”. Essa frase soa profunda, mas é filosoficamente problemática, pois ela tenta criar uma falsa equivalência entre “pseudociência” e uma hipótese científica que, posteriormente, revolucionou a Ciência. O argumento implícito é que práticas como a homeopatia seriam o equivalente moderno da Teoria dos Germes, por exemplo. Uma ideia que nasceu controversa, mas que o tempo provou correta. A questão é que essa hipótese científica que hoje é consenso só foi incorporada ao ecossistema científico porque fez o “dever de casa”: gerou previsões testáveis, sobreviveu a testes rigorosos e acumulou evidências a seu favor.
Da mesma forma, teorias científicas que foram posteriormente superadas (como a “teoria do dos quatro humores”) eram as explicações disponíveis NA ÉPOCA, baseadas nas evidências daquele tempo. E o mais importante: foram abandonadas quando evidências melhores surgiram, reforçando a característica autocorretiva da Ciência.
Pseudociência, portanto, é algo diferente: são afirmações mantidas APESAR de evidências contrárias acumuladas. A homeopatia foi proposta em 1796. São mais de 200 anos de testes. A diferença entre a sangria e a homeopatia é que a primeira foi abandonada quando evidências contrárias surgiram; a segunda persiste apesar delas (embora alguns picaretas estejam tentando ressuscitar a sangria).
A acusação de eurocentrismo também merece destaque. Criticar homeopatia ou constelação familiar (ambas criadas na Alemanha) ou florais de Bach (criado na Inglaterra) não tem nada a ver com desvalorizar práticas não ocidentais, afinal de contas tanto Alemanha quanto Inglaterra, berços dessas práticas, fazem parte do Ocidente.
Categoria 4: Apelo à Tolerância
Esta categoria tenta transformar uma disputa sobre fatos em uma disputa sobre valores – e, com isso, silenciar a crítica através de apelos à tolerância e ao respeito. “Debochar de algo que ajuda algumas pessoas e animais, não é aceitável. Como disse antes, se não acreditam, não usem. Simples!”, escreveu alguém com aparente frustração. Outro foi mais contundente: “Tripudiar em cima de pessoas que estão procurando auxílio para suas doenças é cruel”.
E aqui preciso fazer uma distinção que frequentemente se perde nessas discussões: há uma diferença entre respeitar PESSOAS e respeitar IDEIAS. Devemos, sim, respeitar todas as pessoas, incluindo aquelas que acreditam em homeopatia, florais ou qualquer outra prática alternativa. Elas merecem dignidade, empatia e compreensão. Mas isso não significa que devemos “respeitar” ideias que são factualmente incorretas e potencialmente prejudiciais.
O silêncio diante de práticas potencialmente prejudiciais, sob o pretexto de “tolerância”, é que deveria ser visto como cruel. A maior falta de respeito não é criticar uma terapia ineficaz e sim deixar que pessoas vulneráveis, frequentemente desesperadas,, sejam exploradas.
A confusão aqui está em tratar proposições factuais como se fossem preferências subjetivas. “Cada um tem sua verdade” ou “Cada um opta pelo que quer fazer da sua vida” funcionam bem quando falamos de preferências estéticas, ou escolhas de estilo de vida que não envolvem afirmações sobre a realidade objetiva. Você prefere rock ou samba? Questão de gosto, sem resposta certa ou errada. Mas “a homeopatia cura doenças” não é uma questão de gosto, é uma proposição factual que pode ser (e foi) testada empiricamente.
A tolerância epistêmica tem limites éticos bem definidos. Esses limites são atingidos quando: (1) há risco de dano real aos pacientes: seja por atraso de tratamentos eficazes, seja por efeitos adversos diretos; (2) há exploração financeira: cobra-se por tratamentos sabidamente ineficazes; e (3) há perpetuação de ignorância que prejudica a sociedade como um todo. Nesses casos, a tolerância deixa de ser virtude e torna-se cumplicidade.
Categoria 5: Legitimação Institucional
A última categoria tenta validar práticas pseudocientíficas citando sua legitimação institucional. “Mas o plano de saúde até cobre homeopatia! Como assimmmmm?”, questionou alguém, como se a cobertura por planos fosse a prova automática de eficácia. Outros mencionaram: “Existe trabalho comprovando sim… procura e acha quem quer” e “Um profissional extremamente humilde e didático… trabalhou por anos no emergencial até largar tudo pra trabalhar só com homeopatia”.
Aqui encontramos o que chamei em outro artigo de “paradoxo do Bootstrap na Saúde” (aquele paradoxo de ficção científica em que um fenômeno causa-se a si mesmo). No exemplo citado, o ciclo funcionaria assim: “Planos de saúde cobrem homeopatia porque ela é considerada válida” → “Homeopatia é considerada válida porque planos de saúde cobrem”. Mas de onde vem a validação inicial? Não de evidências científicas robustas, certamente.
A verdade é que planos de saúde cobrem homeopatia (e outras práticas pseudocientíficas) por uma combinação de fatores: pressão política, lobby organizado, demanda de mercado e, frequentemente, desconhecimento dos gestores a respeito da literatura científica. A cobertura institucional não é resultado de validação científica, mas de negociação e política. Confundir legitimação institucional com validação empírica é um erro fundamental.
O mesmo vale para o argumento de autoridade: “Um médico deixou o pronto-socorro para fazer homeopatia”. Isso não valida a homeopatia. Diploma de medicina não confere imunidade contra erros de raciocínio ou crenças infundadas. O que valida uma prática é o consenso científico construído através de múltiplos estudos independentes, replicação de resultados e escrutínio metodológico rigoroso. Um médico individual – ou mesmo mil médicos – pode estar errado. A história da medicina está repleta de exemplos de práticas amplamente aceitas por profissionais da época e que, depois, se mostraram inúteis ou até prejudiciais.
A afirmação de que “existe trabalho comprovando” merece atenção especial. Tecnicamente, a afirmação é verdadeira: existem trabalhos individuais que reportam efeitos positivos para praticamente qualquer terapia alternativa (e para qualquer absurdo que você possa imaginar também). O problema é que esses trabalhos geralmente são de baixa qualidade metodológica, com amostras pequenas e controles inadequados, e são citados por meio do cherry picking: a prática de selecionar apenas os estudos que confirmam a crença desejada, ignorando convenientemente a vasta literatura científica que mostra resultados negativos.
O que tudo isso nos diz?
Depois de categorizar os comentários e identificar esses cinco padrões recorrentes, uma conclusão se impõe: não estamos lidando com argumentos independentes que, por acaso (ou consistência lógica), chegam às mesmas conclusões. Estamos diante de um sistema de crenças autorreferencial, um circuito fechado de validação mútua.
E não se trata apenas de uma impressão pessoal. Em 2019, Bensley e colaboradores publicaram no periódico Applied Cognitive Psychology um estudo testando essa hipótese. Os pesquisadores avaliaram 286 estudantes universitários usando múltiplas medidas de crenças não fundamentadas: teorias da conspiração, crenças paranormais, pseudociência, concepções errôneas sobre psicologia e práticas mal embasadas cientificamente.
Todas as medidas mostraram correlações positivas e significativas entre si. Pessoas que endossavam teorias da conspiração também tendiam a aceitar crenças paranormais, pseudociência e concepções psicológicas inadequadas. Mais interessante ainda: os pesquisadores identificaram que participantes endossavam até mesmo teorias da conspiração mutuamente excludentes, como simultaneamente acreditar que Osama bin Laden estava morto antes do ataque americano e que ele ainda estava vivo. Isso sugere que o que impulsiona a crença não é uma análise cuidadosa do conteúdo específico, mas temas conspiratórios genéricos, aplicados indiscriminadamente.
Isso se alinha com a categorização dos argumentos que apresentei. A Categoria 1 (crítica à indústria farmacêutica) reflete claramente o fator conspiratório – a desconfiança generalizada de “forças ocultas”. As Categorias 2, 3 e 5 (evidências anedóticas, crítica ao reducionismo científico, e legitimação institucional) refletem o que Bensley e colaboradores chamaram de “mindware gaps“ – lacunas de conhecimento sobre como a ciência funciona, o que constitui evidência válida, e como avaliar afirmações. A Categoria 4 (apelo à tolerância) funcionaria, neste contexto, como um mecanismo defensivo de aplicação geral.
O estudo também revelou algo que dialoga com o que observei nos comentários do Instagram. Cada categoria de argumento que identifiquei sustenta as outras em um ciclo que não tem ponto de entrada empírico real: a indústria farmacêutica é má, logo, as alternativas devem ser boas; as experiências pessoais “comprovam” a eficácia; a ciência que questiona isso é limitada e arrogante; criticar é intolerante; e a legitimação institucional fecha o ciclo, validando todo o sistema novamente. Bensley e colaboradores descrevem isso como um sistema de crenças “monológico”, ou seja, relacionado a um único ponto de vista estreito, sem considerar outros quadros de referência ou posições contrárias.
O que me impressiona não é que pessoas caiam nesses padrões de raciocínio. Todos nós somos vulneráveis a vieses cognitivos, a pensamento motivado, a narrativas sedutoras que confirmam o que já acreditamos. O que me impressiona é a sistemática recusa em aplicar às práticas “alternativas” o mesmo nível de ceticismo que essas pessoas aplicam à medicina convencional. A indústria farmacêutica é muitas vezes corretamente criticada por conflitos de interesse – mas os praticantes de homeopatia que lucram vendendo consultas e bolinhas de açúcar, não? A medicina convencional é criticada por não ter todas as respostas, mas práticas sem qualquer mecanismo plausível recebem benefício da dúvida infinito?
Não estou dizendo que a medicina convencional seja perfeita. Aliás, muito longe disso. Estou afirmando que a resposta para os problemas reais da medicina não é abandonar a exigência de evidências. É justamente o contrário: é aplicar o mesmo rigor crítico a TODAS as intervenções, sejam elas rotuladas de “convencionais” ou “alternativas”, “artificiais” ou “naturais”, “ocidentais” ou “orientais”.
E se isso soa duro ou “intolerante”, talvez seja hora de questionar por que a exigência de evidências passou a ser vista como agressão, enquanto vender esperança falsa passou a ser visto como cuidado. O verdadeiro cuidado não é dizer às pessoas o que elas querem ouvir. É dizer a verdade, mesmo quando dói. Principalmente quando dói.
André Bacchi é professor adjunto de Farmacologia da Universidade Federal de Rondonópolis. É divulgador científico e autor dos livros “Desafios Toxicológicos: desvendando os casos de óbitos de celebridades” e “50 Casos Clínicos em Farmacologia” (Sanar), “Porque sim não é resposta!” (EdUFABC), “Tarot Cético: Cartomancia Racional” (Clube de Autores) e “Afinal, o que é Ciência?…e o que não é. (Editora Contexto).
Fonte: abril