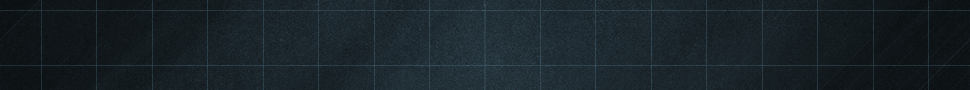Texto: Bruno Vaiano | Ilustrações: Tayrine Cruz | Design: Juliana Krauss | Revisão técnica: Juliano Neves
Em 2035, um foguete Ariane 6 da Agência Espacial Europeia (ESA) vai decolar do espaçoporto de Kourou, na Guiana Francesa, levando no porta-malas a maior geringonça científica já construída pela humanidade: um interferômetro a laser com braços de 2,5 milhões de km de comprimento – o equivalente a 62 voltas em torno da Terra.
O objetivo desse equipamento de €1,5 bilhão é fazer mais do que já é rotina para os astrofísicos há mais de cem anos: verificar, com precisão cada vez maior, que Einstein acertou.
Em 1916, o alemão previu a existência de ondas gravitacionais – oscilações no próprio tecido do espaço-tempo, que alteram em algumas frações de centímetro o comprimento de onda desses lasers quando passam por eles. Essas ondas são geradas por eventos cósmicos cataclísmicos, como colisões entre buracos negros ou estrelas de nêutrons.
Um século após a previsão de Albert, em 2016, um par de interferômetros localizados na superfície da Terra – o Ligo – detectou esses pulsos pela primeira vez. Agora, o experimento irá ao espaço.
Einstein permanece vivo nos alicerces da física contemporânea e no imaginário popular. Sete décadas após sua morte, ele ainda é o maior dos ícones pop da ciência – sua foto com a língua de fora estampa ecobags e pôsteres em ritmo de Frida Kahlo ou Marilyn Monroe.
Não faltam textos, na Super e em outros veículos, sobre a militância do alemão contra a bomba atômica, sua carta com conselhos para Marie Curie, suas impressões do Brasil, suas caminhadas em Princeton com Kurt Gödel ou sua aparição no filme Oppenheimer.
Difícil mesmo é entender o que está na raiz dessa veneração. Nas próximas páginas, você descobrirá o que, exatamente, é a teoria da relatividade – e por que esse trabalho foi o clímax de uma mudança de paradigmas filosóficos que começou muito antes, em Galileu. Não se preocupe: a jornada não é tão cabeluda quanto parece. Einstein não triunfou tanto por sua matemática quanto por sua imaginação. Para entendê-lo, basta imaginar junto.

Relativos e absolutos
Você já ouviu falar na polêmica entre heliocentristas e geocentristas no final da Idade Média. Aprendemos na escola que havia um debate para decidir se era a Terra ou o Sol que ficava no centro do Universo – e que os hereges que preferiam o Sol ganhavam um aperitivo dele na fogueira, porque a Igreja era do time Terra.
O problema no pensamento católico medieval sobre o cosmos (que deriva de Aristóteles e Ptolomeu, em última instância) não era só declarar que nosso planeta está no centro, mas também imaginar que existe um centro. Que Deus hierarquizou o mundão em lugares mais ou menos privilegiados – que as leis da física em Marte seriam diferentes das que conhecemos aqui, por exemplo.
Então, veio Galileu. Ele tem o crédito de ter sido o primeiro a perceber que, na física, as coisas só fazem sentido em relação a outras coisas. Daí a palavra “relatividade”, diga-se. Não existe um referencial absoluto – nem no centro da Terra, nem no Sol, nem em lugar algum.
Você só pode afirmar que um ônibus está a 120 km/h porque as multas de trânsito valem em relação ao asfalto. Mas o chão – a superfície da Terra – está se movendo em relação ao Sol. O Sol, por sua vez, está se movendo em relação à Via Láctea. Que está se movendo em relação à galáxia vizinha, Andrômeda (elas vão se fundir daqui 4,5 bilhões de anos).
Em suma: para declarar que alguma coisa tem velocidade, sempre é preciso dizer em relação a quê. “As leis da física podem referir-se igualmente a qualquer ponto, tomado como seu centro, e darão origem às mesmas relações”, escreveu em 1965 o físico David Bohm, amigão de Einstein, discutindo a relatividade de Galileu no livro A teoria darelatividade restrita.
A bordo de um avião, com as janelas fechadas, é impossível notar que estamos a 10 km de altitude e 900 km/h. Dá para andar até o banheiro, conversar e comer. Da perspectiva dos passageiros, o avião é um referencial parado e é o chão que está se movendo a 900 km/h para trás. Dói no senso comum, mas não faz diferença para as equações. Elas dão os mesmos resultados.
Prova disso é o seguinte experimento imaginário: você está no espaço vazio, sentado em sua nave, e uma outra nave passa por você. Não há estrelas para servir de referencial, só a escuridão. Nessas circunstâncias, é impossível determinar quem está parado e quem está se movendo. Até onde o piloto da outra nave pode aferir, é ele que está parado – e você é que está se aproximando.
Até aqui, tudo bem. Concluímos que não faz diferença estar parado ou estar se movendo a uma velocidade constante. Na verdade, nem sequer existe essa coisa de estar parado. Todos os planetas, estrelas, nuvens de gás e demais itens do Universo estão se movendo constantemente uns em relação aos outros.
Existe um fenômeno, porém, que não é tão relativizável assim: as mudanças de velocidade. Nós percebemos nitidamente quando estamos acelerando ou freando. O avião pressiona os passageiros contra os assentos ao decolar e joga todos para frente ao pousar. Há algo de absoluto na aceleração – ela existe por si só, enquanto a velocidade constante emerge da comparação entre dois pontos de vista.
Galileu, diga-se, também foi o cara que percebeu que a gravidade acelera os objetos em direção ao chão em vez de levá-los para baixo a uma velocidade constante (que era o chute de Aristóteles). Essa sacada de que a gravidade é uma aceleração faria toda diferença para Einstein depois – então mantenha isso em mente nas próximas páginas.
Newton, o mais célebre dos cabeções dessa época, veio pouco depois e condensou as sacadas de Galileu, Kepler e de si mesmo – entre tantos outros pioneiros – no que hoje chamamos de mecânica clássica. Essas são as equações que regem o movimento dos objetos no nosso cotidiano, que todo estudante de exatas conhece, e que servem até hoje para disparar foguetes à Lua.
Mas Newton ainda se sentia desconfortável. Ele intuía que algo precisava servir de parâmetro para a dança dos astros no Universo. Ele decretou, então, que o espaço e o tempo eram absolutos.
É como se o Universo fosse uma caixa gigante em que acontecem todas as coisas, e lá houvesse um relógio fazendo um único tique-taque para tudo que existe. Planetas e estrelas podem até estar em movimento constante uns em relação aos outros, mas isso se dá contra um plano de fundo fixo, imutável. É uma ideia bonita – e fazia sentido. Mas aí jogaram água no chopp.

Um arremedo etéreo
Em 1865, um escocês de barba desgrenhada chamado James Maxwell publicou um conjunto de equações que descreviam os fenômenos eletromagnéticos com enorme precisão. Elas eram de uma correção e elegância sem par, mas continham em si um mistério: indicavam que a luz sempre se desloca a uma velocidade de 300 mil km/s, e esse valor emergia por si só.
“As equações de Maxwell simplesmente produziam esse número, sem especificar ou tomar por base nenhuma referência”, escreve o físico Brian Greene, da Universidade Columbia. “É como se alguém o convidasse para uma festa em uma casa trinta quilômetros ao norte sem dizer ao norte de quê.” Mas, de alguma forma, você chegasse lá.
Não fazia sentido. A velocidade do som só faz sentido em relação ao ar parado. A velocidade das ondas sísmicas só existe em relação à crosta terrestre. A luz precisava de um referencial, porque nada é absoluto – alô, Galileu? Muitos físicos, então, tentaram preencher essa lacuna de um jeito deselegante: defendendo a existência de algo chamado éter luminífero.
Essa substância hipotética e indetectável estaria espalhada uniformemente por todo o Universo e serviria como meio de propagação das ondas eletromagnéticas – bem como um referencial estático em relação ao qual se pudesse determinar sua velocidade. Era um remendo teórico. Um jeito de fornecer um substrato à luz; algo em que ela pudesse se apoiar.
“Esse era o único referencial, de acordo com os defensores da hipótese do éter, em que as equações de Maxwell estavam corretas”, escreve Leonard Susskind, professor da Universidade Stanford, em seu livro Special relativity and classical field theory. “Em qualquer outro referencial que estivesse em movimento em relação ao éter, as equações precisariam ser alteradas.”
Tudo certo, não fosse a parte do “indetectável”. A única razão para se postular a existência do éter é que ele parecia uma obrigação teórica, uma necessidade lógica diante do que se sabia sobre outras ondas. Não havia qualquer evidência prática de que o dito-cujo estivesse lá.
Foi nesse contexto que o físico americano Albert Michelson idealizou, em 1887, um dispositivo chamado interferômetro óptico. Esse aparato experimental era uma tentativa de detectar ou não a existência do éter – e pôr fim à questão que afligia a física.

O interferômetro de Michelson
O primeiro passo do funcionamento dessa engenhoca é emitir um feixe de luz em direção a um espelho. Um espelho especial, semitransparente, que reflete metade da luz e deixa a outra metade passar direto.
A porção de luz que foi refletida faz uma curva de 90º, enquanto a outra metade passa reto e segue seu caminho. Isso gera dois feixes divergentes, que se propagam perpendicularmente, formando uma letra “L” (acompanhe no gráfico ao lado).
Cada um dos feixes viaja a mesma distância até encontrar um espelho comum, totalmente reflexivo. Então, os feixes batem em seus espelhos, voltam, se reúnem no centro e são enviados juntos em direção a um detector. Se os dois braços do L têm exatamente o mesmo comprimento, então os dois feixes de luz voltam a se fundir em um só, como se nada tivesse acontecido.
Por outro lado, se houver uma perturbação minúscula (na direção de um dos braços) em qualquer um dos braços, as ondas eletromagnéticas que formam cada feixe vão estar oscilando fora de sincronia quando se reecontrarem, o que gera uma interferência detectável (daí o nome “interferômetro”). Um padrão alternado de luz e escuridão.
Michelson imaginou o seguinte: se o tal do éter luminífero realmente banha todo o Universo, então a Terra precisa atravessá-lo conforme segue sua órbita ao redor do Sol. Isso geraria um vendaval de éter — do mesmo jeito que você sente o vento bater no seu rosto quando anda de carro com a janela aberta. E põe vento nisso: nosso planeta se desloca a 30 km por segundo.
Os dois braços de luz do interferômetro, em tese, encaram o hipotético vendaval de éter de maneira desigual: um deles se propaga a favor do vento, como uma nau portuguesa de velas içadas, enquanto o outro pega o fluxo de lado. Isso deveria interferir na velocidade da propagação da luz em cada braço e tirá-los de fase, gerando uma interferência detectável.
Não houve interferência, porém. A luz, em quaisquer circunstâncias, parecia se propagar sempre à mesma velocidade: aproximadamente 300 mil km/s. Bizarro. Se você acende uma lanterna parado e um lanterna em um carro a 50 km/h, é de se esperar que a luz da lanterna do carro ande 50 km/h mais rápido do que a lanterna parada.
Na realidade, porém, o carro não faz diferença alguma. Tanto as equações de Maxwell quanto o interferômetro de Michelson sugeriam que a luz se desloca à revelia dos referenciais.
Houve algumas tentativas de justificar o resultado. Houve quem apostasse, por exemplo, que a Terra estava arrastando um pouco de éter consigo – do mesmo jeito que um carro com janelas fechadas carrega um bolsão de ar parado dentro dele. A verdade, porém, era um pouco mais estranha. E só um físico abraçou o surrealismo em vez de evitá-lo: Einstein.

A relatividade restrita
Ao longo de 1905, com 26 anos e um emprego maçante em um escritório de patentes na Suíça, Einstein publicou os quatro artigos científicos mais importantes da história da física em um intervalo de alguns meses.
O primeiro deles, sobre o efeito fotoelétrico, se tornaria um dos pilares da mecânica quântica. Você pode entendê-lo nesta outra matéria de capa da Super. O segundo, sobre o movimento aleatório de partículas suspensas em um fluido – o movimento browniano –, foi pivotal para o consenso em torno da existência de átomos e moléculas.
Para este texto, porém, são os dois últimos que interessam. Neles, Einstein descreve a teoria da relatividade restrita e chega à única equação que todo mundo sabe de cor: e = mc². Esses papers resolveram o conflito entre a mecânica clássica e o eletromagnetismo. E, de quebra, inauguraram uma nova era na física.
Einstein fez algo razoavelmente simples do ponto de vista matemático e um tanto psicodélico do ponto de vista conceitual. Partiu da premissa de que o éter não existia – porque não pode existir um referencial privilegiado em relação aos demais, o que é Galileu básico –, mas supôs também que a velocidade da luz é fixa em todos os referenciais: 300 mil km/s, conforme Maxwell. Em suma, aceitou o que a física dizia, sem procurar pelo em ovo.
Esse raciocínio leva a uma conclusão absurda. Vamos reforçá-la: mesmo que o carro com a lanterna de alguns parágrafos atrás milagrosamente conseguisse alcançar 99% da velocidade “c”, a luz continuaria fugindo de você a 300 mil km/s. Como é possível?
Albert concluiu que é possível porque, quanto mais rápido você se desloca, mais devagar o tempo passa da sua perspectiva. Essa lentidão no relógio compensa a rapidez do deslocamento no espaço e mantém o motorista na estaca zero. Matematicamente, trata-se de algo muito engenhoso: o espaço e o tempo se distorcem para acomodar os desígnios da luz. Filosoficamente, parece um absurdo completo: por que o Universo funcionaria assim? Os experimentos práticos, porém, são inescapáveis. Eles confirmam que isso acontece.
Nascia a teoria da relatividade restrita, ou especial – “restrita” porque ela vale apenas para situações de velocidade constante, em que não há influência da gravidade nem qualquer outra forma de aceleração.
Pouco depois, em 1907, Hermann Minkowski, que havia sido professor de Einstein na Universidade Técnica de Zurique, reinterpretou matematicamente o trabalho de seu ex-pupilo com uma sacada. Ele percebeu que era mais intuitivo entender a teoria da relatividade se o tempo passasse a ser considerado uma quarta dimensão, além das três do espaço (altura, largura e profundidade, grosso modo). Nasce aqui a ideia de espaço e tempo entrelaçados.
Não dá para se mover em um deles sem interferir em seu movimento no outro. Quando você está paradão no seu frame de referência – o sofá –, todo o seu movimento é dedicado ao tempo. No instante em que você se levanta para pegar água, porém, uma porçãozinha do seu movimento no tempo precisa ser transferida para o seu deslocamento no espaço, até a cozinha. E então, o relógio gira um fiapo mais devagar para você.
Quanto mais rápido você se desloca no espaço, é claro, menos você se desloca no tempo. E a luz, que viaja à velocidade máxima do Universo, é o oposto de nós no sofá: se desloca exclusivamente no espaço. Da perspectiva dela, o tempo está parado, não existe. Se uma onda eletromagnética tivesse experiência subjetiva, ela veria todo o caminho do Sol até nossa pele como um instante só.

E = mc²
É claro que esse é um exercício de imaginação. É impossível alcançar a velocidade da luz. Não só pela limitação técnica óbvia – não existem motores e combustíveis com essa potência e eficiência –, mas porque o próprio Universo não permite: só energia pura (ou partículas sem massa, como os fótons) têm a prerrogativa de “ver” o tempo parar. Se você é um ser com massa, dê adeus ao sonho.
Acontece o seguinte: do mesmo jeito que espaço e tempo eram coisas separadas na visão de Newton, matéria e energia também. Até onde o rapaz da maçã podia saber, massa só pode dar origem a massa, e energia só podia se converter em energia.
Até dá para transformar energia elétrica em energia térmica (é o que faz uma resistência de chuveiro) ou energia potencial gravitacional em energia cinética (um gatinho empurrando um vaso de cima da prateleira). Mas, apesar de todas as suas manifestações intercambiáveis, energia é um troço que não se perde nem se cria: sua quantidade permanece constante.
Essa foi mais uma ilusão que Einstein transformou em pó. Ele descobriu que massa pode se transformar em energia, e vice-versa. E descobriu que a quantidade de energia (e) contida em um pedacinho de matéria é igual à massa desse pedacinho (m) multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado (c²) – que é um número estupidamente grande. Eis aí: e = mc². Qualquer átomo humilde contém em si um caminhão de energia em potencial; é por isso que uma bomba atômica faz tanto estrago.
Para um veículo atingir uma velocidade próxima à da luz, ele precisaria de uma quantidade homérica de energia. E o problema, agora sabemos, é que energia pesa. Quanto mais rápido você se desloca, mais sua massa aumenta e de mais energia você precisa para tirá-la do lugar e aumentar de velocidade ainda mais. Conforme o veículo se aproxima da velocidade da luz, sua massa tende ao infinito e, portanto, exigiria energia também infinita para acelerar mais.
Bacana. E vai ficar mais legal. Mas, antes de continuarmos, pausa para um disclaimer: se tudo isso é verdade, então por que você vive em um mundo perfeitamente newtoniano – onde os relógios parecem todos concordar que é um certo horário?
A razão é que nada no nosso mundo se move com rapidez suficiente para exibir efeitos relativísticos. Nós estamos todos presos ao quadro de referência da superfície da Terra; nenhum veículo humano alcança sequer 1% da velocidade da luz. Nossos corpos e mentes evoluíram para lidar inconscientemente com a mecânica clássica, e é isso que a torna tão confortável. Para dar o próximo passo, porém, precisamos abandoná-la de vez. E dar ao espaço e ao tempo um protagonismo com que Newton nunca sonhou.
–

A relatividade geral
Einstein havia resolvido a charada da luz versus um corpo a uma velocidade constante. Mas agora faltava dar conta da vida real – generalizar as equações da teoria para que ela se aplicasse a corpos que estão acelerando ou freando. Mudando de velocidade. E a aceleração, como Galileu já tinha sacado, tem tudo a ver com gravidade.
Vamos para outro experimento imaginário. Agora, você está em um elevador flutuando no vácuo do espaço sideral, distante de qualquer fonte relevante de gravidade. Naturalmente, você vai flutuar lá dentro. Não haverá nada para atraí-lo em nenhuma direção.
(Vale dizer que essa é uma idealização. Os astronautas que estão na órbita da Terra não flutuam porque estão em gravidade zero; flutuam porque estão em queda livre em direção ao planeta. Acontece que a Estação Espacial Internacional nunca bate no chão porque sua velocidade tangencial – para “o lado” – a mantém rodando em torno do orbe.)
Porém, se o elevador começar a acelerar, você será pressionado contra o chão. De fato, se ele acelerar a exatamente 10 m/s², você será pressionado contra o chão com a mesma força com que a gravidade da Terra te atrai. Isso dará a ilusão de que o elevador não está mais no espaço. Você poderá andar lá dentro normalmente, porque seus pés estarão pressionados contra o chão – exatamente como suas costas são pressionadas contra o encosto do avião na decolagem, pela inércia.
Falando assim, aceleração e gravidade parecem equivalentes – e são, tanto que essa constatação é conhecida como princípio da equivalência. Einstein chegou a essa conclusão sem fazer conta alguma. Ele realmente imaginou um elevador enquanto estava distraído no trabalho, e descreveria esse gedankenexperiment (“experimento mental”, em alemão) como o “pensamento mais feliz da minha vida”.
Para o próximo passo da explicação, voltemos rapidamente ao ensino médio. Se você desenhar um gráfico com dois eixos – x para o tempo e y para o espaço –, uma linha reta nesse gráfico representará um corpo a uma velocidade constante. Um carro que percorre sempre a mesma quantidade de metros a cada segundo. Por outro lado, se o carro estiver acelerando, a linha começa a se curvar, porque a quantidade de metros por segundo vai aumentando.
Einstein percebeu que o tecido do espaço-tempo também se curva. E que as curvas, como no gráfico, equivalem a acelerações.
Quando uma coisa pesada como a Terra ou o Sol está apoiada no espaço-tempo, ele afunda – do mesmo jeito que sua cama quando você se senta. Essa depressão faz as coisas (como nós e os demais objetos) se moverem em direção à Terra; do mesmo jeito que bolinhas de gude na cama rolariam na direção do seu traseiro. Ao se moverem, essas coisas ganham uma aceleração. Aceleração essa que as pressiona contra a superfície do planeta e gera o que nós chamamos de peso. Eis a gravidade.
E é por isso que aceleração e gravidade são indistinguíveis. Ambas são curvas no grande gráfico da realidade. Nas palavras do físico John Wheeler, “o espaço-tempo diz à matéria como se mover; a matéria diz ao espaço-tempo como se curvar”.
Lembre-se: a gravidade da Terra não estica só o espaço – dilata o tempo, também. Isso significa que os relógios também giram mais devagar onde há campos gravitacionais. Essa é a premissa do filme Interstellar, em que um astronauta passa algumas horas próximo a um buraco negro enquanto 23 anos se passaram na Terra.
O centro do nosso planeta é dois anos e seis meses mais jovem que a superfície, exatamente porque a curvatura do espaço-tempo – a gravidade – é mais enfática lá no miolo. É pouco para um bólido de pedra que existe há 4,5 bilhões de anos, mas isso só prova o quanto os efeitos relativísticos são sutis na escala humana. Essa sutileza, porém, às vezes se manifesta de maneira inesperada no cotidiano.
Você já leu na Super, por exemplo, que os satélites de GPS precisam das equações das relatividades restrita e geral para funcionar. Isso acontece porque eles se deslocam muito rápido ao redor da Terra (o que dilata o tempo em 7 milissegundos por dia de acordo com a relatividade restrita) e estão mais distantes do centro do planeta do que nós (o que diminui o efeito da gravidade sobre os relógios e os faz girar 45 milissegundos mais rápido por dia).
O resultado é que o relógio dessas naves bate num ritmo diferente do nosso – algo que, se não soubéssemos compensar com as equações de Einstein, tornaria impossível confirmar nossa posição no Uber, no IFood ou no Maps.

O mundo se curva a Einstein
Einstein publicou a teoria da relatividade geral em 1915, após uma mãozinha – ou melhor, uma mãozona – do matemático e amigo Marcel Grossmann com a geometria não euclidiana necessária para descrever a curvatura do espaço-tempo.
As primeiras confirmações vieram logo depois, quando as equações do alemão deram conta de um fenômeno chamado periélio de Mercúrio (que a teoria da gravitação anterior, de Newton, não previa). Einstein também determinou que a massa do Sol curvaria a trajetória da luz das outras estrelas até nossos olhos por causa da distorção no espaço-tempo – algo verificado em 1921 durante um eclipse observado aqui do Brasil, na cidade cearense de Sobral.
Einstein criou o edifício em que se sustenta a astrofísica contemporânea, e nas raras vezes em que o noticiário se volta para o céu, seu nome ainda está lá. O grande exemplo é a imagem do buraco negro M87* feita pela iniciativa EHT – a rosquinha laranja que fascinou o mundo em 2019, e foi capa da Super. A foto mostra o disco de acreção dessa anomalia gravitacional, localizada no coração de uma galáxia há 53 milhões de anos-luz da Terra.
“Disco de acreção” é o nome que se dá à grande quantidade de gás e poeira que gira em torno do buraco, e que é lentamente incorporada por ele. Esse material se aquece estupendamente, liberando a radiação eletromagnética que permitiu aos astrônomos fazer a imagem. A imagem, por sua vez, confirmou que o disco segue as previsões da relatividade.
O problema é o meio da rosquinha. A parte escura. Os buracos negros são o desafio derradeiro do Universo ao trabalho do alemão. Quando uma estrela grande e moribunda entra em colapso, a relatividade geral prevê que uma parte de seu material (parte que equivale a várias vezes a massa do nosso Sol) desaba sob o próprio peso e acaba concentrada em um ponto de densidade infinita.
Trata-se de um rasgo no espaço-tempo, uma curvatura tão extrema que as equações dão bug, como em uma divisão por zero na calculadora. Ali, a atração gravitacional é tão brutal que nem a luz escapa: se uma onda eletromagnética passar de um perímetro chamado horizonte de eventos, sua trajetória será forçada para dentro.
Esse ainda é um enigma pendente. Einstein passou o final de sua carreira atrás de uma “teoria de tudo” – um jeito de unificar a relatividade geral com a mecânica quântica, que é a área da física que descreve a natureza em escala microscópica, e assim entender melhor o que acontece no espaço infinitesimal da singularidade.
Esse permanece sendo o Santo Graal da física contemporânea, e quem resolvê-lo terá lugar garantido no Monte Rushmore da ciência. Por ora, Albert permanece o físico mais influente (e descabelado) do século 20.
Bibliografia A teoria da relatividade restrita, de David Bohm; O tecido do cosmo, de Brian Greene; Special relativity and classical field theory e The black hole war, de Leonard Susskind; Einstein: para entender de uma vez, de Salvador Nogueira; A teoria perfeita, de Pedro G. Ferreira. Consultamos Juliano Neves, físico, pesquisador da Universidade Federal de Alfenas (Unifil).
Fonte: abril