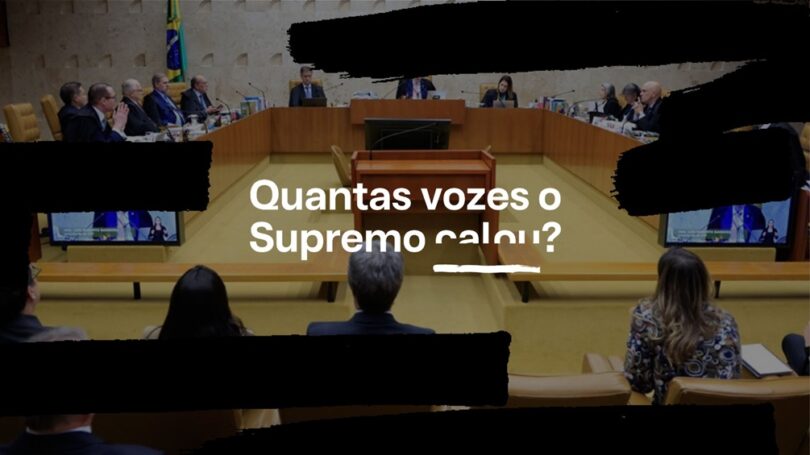A regulação das redes sociais e o controle do discurso nas plataformas digitais têm sido uma preocupação em quase todos os países, mas em nenhum considerado democrático por organismos internacionais a censura a uma corrente política se tornou tão comum quanto no Brasil.
Nos últimos anos, à medida que intensificava sua ofensiva contra vozes da direita, o Judiciário não apenas abriu inquéritos de ofício – marcados por ilegalidades e controvérsias jurídicas – como também decidiu arrogar-se o poder de definir, por conta própria, os limites do discurso permitido.
Após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em junho, o país se tornou um caso isolado no cenário mundial até mesmo considerando as ditaduras: é o único lugar em que o Judiciário assumiu a condução do tema e impôs sozinho as regras de controle do discurso nas redes sociais.
A motivação alegada para esse protagonismo é a inação do Legislativo, mas essa leitura desconsidera que o Congresso exerceu deliberadamente sua prerrogativa ao não legislar. Após intensos debates em 2023, a Câmara optou por manter como estava o Marco Civil da Internet, de 2014, sem avançar com uma nova regulação para as redes sociais.
Nem mesmo em alguns regimes autoritários que aprovaram leis para controlar o ambiente digital, como a Venezuela, o Legislativo foi atropelado na definição das regras para as redes. Lá, apesar do domínio do Executivo sobre o Legislativo, preservou-se a formalidade institucional de aprovação no Congresso.
Em junho deste ano, o STF declarou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que previa responsabilização das plataformas apenas em caso de descumprimento de ordem judicial de remoção.
“O que a gente vive aqui no Brasil é um ponto de inflexão no Direito Digital e no processo penal”, avalia Alexander Coelho, advogado especialista em Direito Digital e sócio do Godke Advogados, para quem a decisão da Corte foi na direção oposta ao Marco Civil da Internet, que consagrava a lógica da intervenção mínima.
O STF estabeleceu uma tese que obriga as plataformas a retirar conteúdos classificados como criminosos, sem necessidade de decisão judicial. Alguns crimes citados têm definição clara, como terrorismo e pornografia infantil. Outros, porém, são subjetivos – entre eles, as chamadas “condutas antidemocráticas”. Essa vagueza na definição, segundo Coelho, “é muito temerária”.
“O Judiciário corre um risco muito forte de se tornar um curador do discurso que é permitido”, alerta. “Existe o risco de o Brasil não ser mais um mercado atrativo para as redes sociais, porque é tanta limitação, tanta barreira, que acabam inviabilizando o negócio como um todo.”
A atuação do STF em relação às redes, para ele, diferencia o Brasil de outros países por “transformar medidas extraordinárias em instrumentos ordinários, sob o verniz da proteção institucional” e colocar o poder de decisão “na mão de um homem só”. “A gente não tem as regras do jogo, como na Europa, por exemplo”, afirma.
No tratamento da liberdade de expressão nas redes, Brasil está mais próximo de ditaduras
Para o jurista Luiz Augusto Módolo, doutor em Direito Internacional pela USP, “o Brasil está se alinhando a países mais restritivos à liberdade de expressão”. “Se pudéssemos colocar o Brasil numa régua, estamos infelizmente mais perto da Rússia, que anos atrás reprimiu a banda de rock Pussy Riot e gerou um mártir de Alexei Navalny, que dos EUA”, afirma.
Ele vê semelhanças do Brasil com outros países de governo autoritário, como Venezuela e China. “O decano do STF, Gilmar Mendes, confessou ser admirador do regime chinês. O STF já fez intercâmbios com o Judiciário chinês”, recorda. “A Venezuela é o abismo que nos olha enquanto olhamos para ele, parafraseando [o filósofo Friedrich] Nietzsche. Diversas pessoas foram presas lá por criticar a eleição roubada pelo ditador [Nicolás] Maduro”, acrescenta.
Módolo ressalta, por outro lado, que mesmo em democracias consolidadas a questão da liberdade de expressão nas plataformas digitais ainda não está bem resolvida. “O fenômeno das redes sociais e seus impactos na sociedade, na comunicação e na política ainda não foram devidamente absorvidos pelo Direito. Nenhum país está com uma legislação perfeita”, afirma. “As chamadas ‘fake news’ estão sendo utilizadas em diversos países da Europa como pretexto para silenciar discursos desagradáveis.”
Coelho destaca que a lei da União Europeia para as plataformas digitais – o Digital Services Act (DSA), promulgado em 2022 – tem base na lógica de mitigação de riscos e na tutela da democracia, mas com grande diferença daquilo que o STF impôs com sua regulação.
“Eles tentam exigir que as plataformas classifiquem e revelem os critérios de moderação de conteúdo. Que eles forneçam essas explicações claras para o usuário, sobre o que eles entendem como discurso de ódio. Que estejam claras as regras do jogo dentro de cada plataforma, sobre como é feita a moderação. Então, até aí, não se trata de nenhuma censura arbitrária, mas de uma regulação sistêmica das plataformas, com uma supervisão pública”, comenta.
Mesmo com esse cuidado, segundo Coelho, não há garantia de uma solução justa. O DSA tem causado problemas e, em alguns casos, contrariado até mesmo quem defendia inicialmente a legislação. “O pessoal voltado mais para a esquerda achou o DSA o máximo no início, mas a gente está percebendo que esse entusiasmo já passou, e que eles estão revendo muitas obrigações, porque é impossível cumpri-las. Uma coisa é você colocar no papel, e outra coisa é a prática”, diz.
Um dos problemas que tem ocorrido, explica ele, é o “overblocking”: o excesso de bloqueios de conteúdos, inclusive de postagens que deveriam ser consideradas lícitas – justamente aquilo que as plataformas apontaram como um risco diante da decisão do STF sobre o Marco Civil. “Por mais que se utilize a inteligência artificial, é difícil controlar toda a quantidade gigantesca de postagens nas redes. Há um risco claro de ‘overblocking'”, afirma Coelho.
Regulação alemã controversa foi modelo para leis em todo o mundo
No Brasil, a pressão por uma regulação mais dura cresceu com episódios como o 8 de janeiro, instrumentalizado para reforçar a ideia de que as redes fomentaram um discurso contra as instituições democráticas. Em 2024, a divulgação de detalhes sobre a suposta preparação para uma tentativa de golpe de Estado em 2022 deu novo impulso a essa narrativa, tornando-se justificativa da elite estatal para intensificar o esforço de derrubar o artigo 19 do Marco Civil da Internet.
Embora a ofensiva regulatória no Brasil tenha assumido contornos mais rigorosos, ela não deixa de ser parte de uma tendência global. Um marco importante, que pode ser considerado o início dessa onda, foi a entrada em vigor da Lei de Fiscalização de Redes (NetzDG), na Alemanha, em janeiro de 2018.
A NetzDG foi elaborada pelo Executivo e aprovada pelo Bundestag em outubro de 2017, após forte controvérsia. A lei criou o chamado “dever de cuidado” – citado pelo STF no julgamento sobre o Marco Civil –, obrigando plataformas a remover conteúdos “manifestamente ilegais” em até 24 horas após notificação. Apesar das críticas ao uso de termos vagos, o texto foi sancionado.
A lei já gerou situações graves de “overblocking”, como no caso de Mike Samuel Delberg, representante da comunidade judaica alemã que teve sua conta no Facebook suspensa após publicar vídeo relatando um ataque antissemita. A suspensão ocorreu porque a plataforma temia sanções previstas na NetzDG contra postagens que incluíssem manifestações racistas ou xenófobas. O conteúdo denunciado fez a própria denúncia cair.
A Rússia adotou a NetzDG como referência para formular sua própria legislação, criando regras com termos vagos e prevendo punições severas a certos conteúdos online. Esse foi o primeiro passo para uma escalada de censura que, em 2019, concedeu a uma agência estatal do país o poder de bloquear conteúdos “não confiáveis”. Depois, uma nova legislação criminalizou o “desrespeito flagrante” ao Estado, ampliando o controle sobre o discurso digital.
Após a invasão da Ucrânia em 2022, o governo russo tornou a censura ainda mais rígida: passou a prever até 15 anos de prisão para quem divulgasse “informações falsas” sobre as Forças Armadas, ampliando a blindagem a outros órgãos estatais.
A Turquia também se inspirou no modelo alemão ao aprovar, em 2020, sua Lei de Desinformação, que concede amplos poderes às autoridades para definir o que seria “desinformação”. Um dos primeiros alvos foi Kemal Kılıçdaroğlu, líder da oposição, acusado de espalhar fake news.
Na Venezuela, em 2017, o governo promulgou a “Lei Constitucional Contra o Ódio, pela Convivência Pacífica e a Tolerância”, sob o pretexto de garantir diversidade e erradicar ódio e discriminação. Apesar do alcance mais amplo, um dos principais alvos da lei são as redes sociais. O texto, aprovado pelo Congresso, prevê prisão de dez a vinte anos para quem, inclusive por meio digital, “promova ou incite ódio, discriminação ou violência”.
Em democracias, a NetzDG também inspirou projetos de lei que afetam a liberdade de expressão, como na Austrália. Lá, o Online Safety Act de 2021 proíbe conteúdos “ofensivos” segundo “padrões de moralidade e decência geralmente aceitos”. A lei também coíbe postagens classificadas como “abusivas” ou causadoras de “sério dano” psicológico.
No Reino Unido, o Online Safety Act de 2023 obriga plataformas a remover conteúdos ilegais sob fiscalização da Ofcom, agência reguladora com poder de aplicar multas altas. Entidades críticas como o Open Rights Group alertam que expressões vagas como “conteúdo prejudicial” permitem censura de discursos legítimos.
Fonte: gazetadopovo