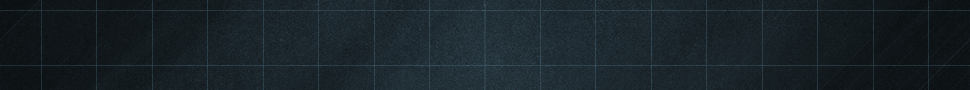Texto: Bruno Carbinatto | Ilustrações: Vini Capiotti
Design: Caroline Aranha e Luana Pillmann | Edição: Bruno Vaiano
Em 2016, a psicóloga Gésica Bergamini ouviu falar de uma técnica terapêutica alternativa que estava se popularizando: a constelação familiar. Como uma profissional da área, decidiu se atualizar – comprou livros sobre o tema e foi participar de sessões presenciais para entender aquele método alternativo. O que ela ouviu ao ser atendida, porém, não é o que se espera de uma terapia convencional.
É que Gésica tem um filho autista – e o que lhe foi dito em uma sessão de constelação é que a “culpa” disso era dela mesma. O motivo? Ela era uma pessoa que enfrentava ideação suicida, decorrente de transtornos psiquiátricos. “Me disseram que, como eu negava a vida, eu não poderia dar a vida a ele. Eu precisava aceitar a vida e renascer para meu filho se ‘curar’ do autismo”, conta.
Nem é preciso dizer que isso é pura balela: o transtorno do espectro autista resulta do desenvolvimento atípico do cérebro de uma pessoa, tem raízes genéticas e não é “culpa” de alguém, muito menos por razões espirituais. E, claro, não tem cura.
Esse nem foi o maior absurdo que Gésica ouviu naquele dia. Na sessão de outra paciente – as constelações ocorrem em grupo e são abertas, como veremos adiante –, uma mulher relatou que havia sido abusada sexualmente pelo pai. Um homem desconhecido foi chamado para “representar” seu pai naquela sala, e ela foi orientada a se ajoelhar e pedir perdão a ele. “Ela chorava demais e dizia ‘eu não consigo, eu não consigo”’, conta Gésica.
Esse não é um relato isolado. Nos últimos anos, depoimentos de pessoas que passaram por situações vexatórias e humilhantes durante sessões de constelação familiar passaram a aparecer com mais frequência na mídia e nas redes sociais, levantando um debate sobre a validade de sua aplicação.
Ao mesmo tempo, essa técnica alternativa – que se apresenta como uma espécie de psicoterapia mesmo sem aval dos conselhos de psicologia e medicina – ganhou muita popularidade e adeptos no Brasil. E não só no âmbito privado. A constelação familiar é oferecida a pacientes do SUS e também é amplamente usada no sistema judiciário brasileiro, mesmo sob críticas. Antes de entendermos o debate sobre ela, voltemos às suas origens.
Anatomia de uma pseudociência
Bert Hellinger nasceu na Alemanha em 1925, filho de uma família católica ferrenha. Na Segunda Guerra Mundial, chegou a lutar pelo exército nazista e foi prisioneiro de guerra das forças aliadas. Depois de solto, estudou filosofia e teologia. Na década de 1950, foi enviado como missionário à África do Sul para catequizar o povo Zulu. Ele viveu por lá por 16 anos e se interessou bastante pela cultura desses nativos – em especial, pela reverência religiosa que eles têm a seus ancestrais. Essas crenças seriam a primeira grande influência de Hellinger.
Durante sua formação, ele também se interessou pelo conceito de “ressonância mórfica” – uma ideia que prega que todos seres vivos estão ligados por um mesmo “campo mórfico” compartilhado e invisível, em que tudo que acontece é gravado e compartilhado. Nessa lógica, o que acontece com um indivíduo pode afetar o outro.
Esse conceito pseudocientífico foi criado pelo biólogo Rupert Sheldrake e ganhou fama entre várias filosofias esotéricas do final do século 20. Ele usou termos emprestados da ciência (“campo”, “ressonância”) para descrever fenômenos místicos, que não podem ser testados em laboratório.
Essa ideia nunca foi comprovada – e sua própria base teórica vem de uma distorção, como explicamos aqui. Hellinger, aliás, às vezes chama essa conexão misteriosa entre as pessoas de uma mesma família de “alma familiar” – evidenciando o caráter religioso da coisa.

Juntando essas influências com a psicanálise (que ele estudou quando voltou à Alemanha), Hellinger fundou, na década de 1990, a constelação familiar. Ela se diz uma técnica terapêutica voltada à resolução de conflitos, especialmente os de família. Apesar de emprestar termos e imitar métodos da psicologia tradicional, não se engane: é uma prática envolta por misticismo.
Para Hellinger, as famílias são sistemas conectados fortemente entre si por esse mecanismo místico de compartilhamento de dados, com num conjunto de polias. O suposto campo grava informações ao longo das gerações, de modo que o que aconteceu com uma bisavó que você nem conheceu pode influenciar sua vida hoje – sem qualquer explicação concreta para como isso ocorreria.
Quando a família está em harmonia, tudo OK. Mas, quando há algum desequilíbrio nas relações dos membros, cria-se o que Hellinger chama de “emaranhamento sistêmico”, uma disrupção na ordem familiar. E essa seria a causa de praticamente todos os problemas de uma pessoa – interpessoais, psicológicos, físicos…
O que causa tais emaranhamentos? Na visão do alemão, uma família ideal precisa cumprir os três preceitos fundamentais da constelação familiar, chamados de “leis do amor”. Se algum deles é desrespeitado, gera problemas.
A primeira dessas regras é o pertencimento: todo indivíduo tem o direito de pertencer a sua família, independentemente do que tenha feito ou de como o restante dos membros se sentem em relação a ele. Tentar negar ou afastar um parente, então, causa desequilíbrios.
A segunda é a hierarquia. “Família”, para Herbert, tem um modelo fixo. Em primeiro vem o pai, cuja função é proteger e prover; depois, a mãe, que deve servir e cuidar; e, por fim, os filhos, que devem sempre obedecer e honrar os pais. A ordem de chegada na família também importa.
A terceira lei do amor é o equilíbrio. Ela diz que o sistema familiar sempre buscará se equilibrar – e, caso alguém não esteja cumprindo seu papel devidamente, outro membro pode ser impelido a agir de forma a suprir aquele déficit, ainda que de forma inconsciente.
É óbvio que relações familiares são importantes para a psicologia e influenciam nossas vidas de maneiras diversas – podem causar traumas, moldar a personalidade e incentivar certas escolhas, para não falar na genética. Mas não há qualquer evidência experimental de que haja um campo mórfico conectando você à sua bisavó.
Esse raciocínio de Hellinger leva a conclusões consideradas preconceituosas, além de erradas. Quando o tema é homossexualidade, por exemplo, Bert Hellinger diz que ela pode ser resultado de um desequilíbrio na ordem familiar que tenta se corrigir. Por exemplo: se uma irmã mais velha morre e um irmão mais novo tenta preencher esse papel feminino da família, “tornando-se” gay para isso. Pois é.
Talvez o pensamento mais chocante de Hellinger, porém, seja o relacionado a incesto – mais precisamente ao abuso de menores por parte dos pais. Para ele, um dos motivos que leva ao crime pode ser a quebra nos papéis de gênero da família: é função da mulher oferecer amor, carinho e sexo para seu marido; quando ela não o faz, há um desequilíbrio no sistema. O resultado é que o pai procura essa falta na filha; ou, pior, a filha “se oferece” para restabelecer o equilíbrio familiar. Um absurdo completo.
Bert Hellinger morreu em 2019, aos 93 anos, na Alemanha. Suas ideias seguem divulgadas pelo instituto HellingerSchule, comandando por sua esposa, Sophie Hellinger. E o Brasil é um dos países que mais aderiram a elas.
Teatro místico
Explicada a teoria, vamos à prática. Para identificar e resolver os emaranhamentos familiares, Hellinger desenvolveu um método próprio.
Nas sessões de constelação, quem guia o processo é o constelador, o “terapeuta” que entende da coisa. O paciente é chamado de constelado. Antes da sessão, o constelador geralmente faz uma pequena entrevista com o constelado para entender seu histórico familiar e pergunta o que ele quer “constelar”, ou seja, tratar na terapia. Pode ser um problema de relação interpessoal, algum sentimento ruim (ciúmes, ansiedade, agressividade), uma condição de saúde – há espaço para tudo.
As sessões ocorrem em grupo. Os outros participantes – que podem ser amigos ou convidados do protagonista da história, ou outros pacientes que estão esperando sua vez de serem constelados – atuam como representantes na sessão, ou seja: interpretam o papel dos membros da família do paciente. Às vezes, podem representar também objetos inanimados (dinheiro, drogas) ou sentimentos abstratos (medo, culpa).
Na sessão, o constelador vai dando instruções para o grupo atuar – pede para o ator que faz o “pai” se aproximar ou se afastar do “filho”, por exemplo, ou para falar frases específicas (“eu te perdoo”, “eu te reverencio”). Mas os participantes também podem seguir sua intuição e tomar decisões próprias durante a cena.
O constelador também faz perguntas para mapear o constelado e descobrir qual é o emaranhamento que assombra a família, de modo a restabelecer as tais ordens do amor. Ficou curioso? O YouTube está cheio de gravações reais.

Sessões de constelação podem encenar cenas específicas que envolvem temas traumáticos, como agressão, abuso e suicídio. Não à toa, costumam ser carregadas emocionalmente – choro e abraços em grupo são comuns.
Também há as sessões individuais, apenas envolvendo constelador e constelado. Nesse caso, bonecos num tabuleiro ou numa bacia com água representam os familiares. Dá para fazer até online – modalidade que se popularizou na pandemia. Existe ainda a versão com cavalos, em que os bichos fazem o papel dos atores.
Críticas
Não é difícil entender o porquê de a constelação familiar ter tantos críticos quanto adeptos. Não há nenhuma comprovação científica de que ela funcione. Há pouquíssimos testes clínicos sobre sua eficácia para a resolução de conflitos ou de problemas de ordem física ou psicológica, todos com amostras pequenas e com conclusões pouco assertivas. E, vale lembrar, grande parte das suas bases teóricas é paranormal, mística.
Existem, é claro, relatos anedóticos de constelados e consteladores que afirmam que a técnica foi bastante eficaz e resolveu problemas diversos e/ou que trouxe melhora psicológica e física. Quem defende o seu uso costuma se referir a esses episódios pontuais para comprovar sua validade. Mas o oposto também ocorre. Além de Gésica, citada no início dessa reportagem, a Super ouviu mais três relatos de experiências negativas com a prática.
A grande questão é: casos isolados não comprovam nem refutam a eficácia de nenhuma intervenção terapêutica, em nenhuma área da saúde: são necessários experimentos randomizados, duplo-cegos e com grupo de controle (três garantias metodológicas de qualidade), com uma amostra de pessoas grande o suficiente para ter representatividade estatística.
E nem estamos falando só de efetividade: esses experimentos também verificam riscos. “A psicologia baseada em evidências não se preocupa só com a eficácia de uma intervenção, mas também com sua segurança”, diz Daniel Gontijo, doutor em Neurociências pela UFMG e fundador da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências (ABPBE). “Não sabemos até que ponto uma sessão de constelação familiar pode agravar um transtorno mental, por exemplo. Há relatos de pessoas que passaram por abusos e tiveram que se recordar detalhadamente daquilo que aconteceu, o que pode gerar uma dor muito forte.”
Mais do que isso, as próprias bases teóricas da constelação são bastante problemáticas – especialmente em temas sensíveis como papéis de gênero, homossexualidade e abuso. Como já explicamos, o modelo considera uma família hierárquica, patriarcal, em que mulheres e crianças são inferiores aos homens, reforçando estigmas sexistas.
A maior parte das críticas se concentra no fato de que a constelação familiar é utilizada no sistema público brasileiro, mesmo com todos os problemas citados. No SUS, por exemplo, ela faz parte das PICs (Práticas Integrativas e Complementares).
Na portaria que incluiu a técnica ao rol de terapias alternativas do sistema público, de 2018, lê-se: “A constelação familiar é uma abordagem capaz de mostrar onde está a origem de um distúrbio de relacionamento, psicológico, psiquiátrico, financeiro e físico, […] podendo ser indicada para qualquer pessoa doente, em qualquer nível e qualquer idade, como, por exemplo, bebês doentes constelados através dos pais”. Não se cita nenhum estudo para embasar essas afirmações.

Mais polêmico ainda, porém, é seu uso no sistema judiciário, uma invenção brasileira. “Nenhum outro país possui isso de maneira tão ampla como o Brasil”, diz Elizabete Pellegrini, cientista política que pesquisa a aplicação da constelação familiar nos tribunais em seu doutorado na Unicamp.
A constelação familiar chegou ao nosso Judiciário introduzida pelo juiz Sami Storch, da Bahia. Ele já era um entusiasta da prática em sua vida privada quando decidiu aplicá-la nos processos judiciais. Por anos, Storch usou sessões da técnica para resolver conflitos que chegavam ao tribunal – e, segundo ele mesmo, teve uma altíssima taxa de sucesso, com mais de 90% de acordos firmados após as constelações. Storch criou o termo “direito sistêmico” para designar a aplicação dessa pseudociência nos tribunais e o fenômeno se espalhou rapidamente entre seus colegas.
No judiciário, a técnica é usada principalmente (mas não só) nas Varas de Família em processos de conciliação, ou seja, para tentar fazer com que as partes entrem em acordo e que o problema não seja necessariamente levado a julgamento (em casos de divórcio litigioso, por exemplo).
Quando alguém chega com uma queixa ou denúncia, o juiz pode convidar a pessoa a participar de uma sessão de constelação antes de iniciar o processo. Às vezes, o próprio juiz pode atuar como constelador; em outras, são voluntários que guiam as sessões.
Não há uma regulação feita para a prática; o uso da constelação no judiciário é amparado pela Resolução 125 do CNJ, de 2010. Esse documento não fala especificamente da técnica de Hellinger; o texto apenas institui o uso de meios alternativos de resolução de conflitos nos tribunais, e é nessa brecha que a técnica de Hellinger entra e se instala nos tribunais.
Defensores desse modelo dizem que a técnica ajuda a chegar a acordos e resolver conflitos sem recorrer a um julgamento tradicional, e que não é uma obrigação: participa quem quer.
A constelação familiar “pode evitar processos intermináveis e delongados e a sobrecarga de trabalho [dos membros do sistema de justiça]”, diz Kellen Carneiro de Medeiros, advogada da Associação Brasileira de Consteladores Sistêmicos (ABC Consteladores), em nota enviada à Super. “Assim, contribui-se com a celeridade do poder judiciário e com a redução de despesas.”
Já os críticos dizem que não é papel da Justiça fazer terapia, e que, por ter uma base teórica pseudocientífica, mística e revestida de uma visão hierárquica e misógina de família, não deveria ser utilizada em casos judiciais, especialmente os que envolvem questões como agressões às mulheres ou crianças.
Há, de fato, relatos de que mulheres denunciaram seus agressores e abusadores e foram colocadas diante deles em sessões de constelação familiar, por exemplo, o que gera uma revitimização (quando uma vítima é forçada a reviver ou relembrar a situação traumática).
Para Kellen, advogada da ABC Consteladores, esses episódios seriam exceções: “As críticas podem decorrer de algum caso isolado em que o profissional talvez não tenha tido o preparo adequado para lidar com essas questões, […] mas a questão não é a constelação e sim a maneira como teria sido realizada”, diz. Ela também ressalta que não é indicado que se defronte vítima e agressor em uma constelação.
Acontece que não há nenhuma regulamentação sobre o uso da constelação nos tribunais. Cada juiz, então, pode escolher usar ou não a técnica, bem como determinar os detalhes de como isso será feito. Sem normas, abre-se a porta para todo tipo de episódio, inclusive os traumáticos.
A falta de regulamentação também torna difícil saber quão disseminada é a prática. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão que deveria ter esse dado, não o monitora, e pesquisadores que se dedicam ao assunto confirmam que é difícil obter essa resposta – justamente porque a constelação é empregada de maneira informal, por iniciativa de cada juiz.
O certo é que não se trata de um fenômeno isolado: um texto publicado no site do CNJ em 2018 diz que ela era aplicada em pelo menos 16 estados, além do Distrito Federal, naquele ano. Também há dezenas de comissões de “direito sistêmico” em filiais da OAB no país afora.
Por um fio?
Nos últimos anos, o movimento contrário à aplicação da prática nos sistemas públicos começou a ganhar força. Em 2022, uma audiência pública no Senado para discutir o tema foi convocada pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE), notório defensor da prática. Mas acabou virando um debate maior, já que também foram convidados críticos da técnica.
No Congresso, há pelo menos três diferentes projetos de lei ou sugestões legislativas sobre o tema em tramitação – um que regulamenta a prática nos tribunais, outro que regulamenta a profissão de constelador e um último que quer proibir de vez essa pseudociência nos sistemas públicos. Todos estão parados, sem previsão de avançar.
Em agosto de 2023, um grupo de pesquisadores enviou uma carta ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania expressando preocupações quanto aos possíveis abusos envolvendo a constelação no Judiciário. Em novembro, o Conselho Nacional de Direitos Humanos montou um grupo de trabalho para estudar o tema.
Também em 2023 o Conselho Federal de Psicologia finalmente se posicionou formalmente contra a prática. Em uma extensa e embasada nota técnica, o órgão que regula e fiscaliza a profissão dos psicólogos afirmou que o uso da constelação familiar é incompatível com as normas éticas e técnicas da Psicologia.
No documento, o CFP ressalta que, apesar de usar termos técnicos emprestados da área, a constelação é contrária às noções atuais da psicologia em temas como composição familiar, gênero e sexualidade.
Segundo Cecília Teixeira Soares, doutora em Psicologia pela UFRJ e colaboradora do CFP, um exemplo claro de diferença é a noção fixa, imutável e hierárquica dos papéis que cada membro deve desempenhar no âmbito familiar no caso da constelação familiar.
Na verdade, na visão da terapia familiar tradicional essa rigidez de papéis de gênero costuma ser a causa de problemas psicológicos, e não solução. “É justamente o contrário”, diz Cecília, que colaborou com a elaboração da nota.
Além disso, a aplicação da constelação é incongruente com as normas éticas e as boas práticas defendidas pelo CFP. Por exemplo: como as sessões são em grupos e abertas, não há respeito à privacidade do paciente e ao sigilo profissional. O documento também cita como a prática pode culpabilizar mulheres e crianças vítimas de violência.
O Judiciário, claro, permanece sendo um palco central dessa disputa. Nos últimos anos, na ausência de uma regulamentação federal, tribunais estaduais passaram a recomendar a restrição da aplicação da prática em casos de violência contra mulheres, por exemplo – foi o caso do Paraná e de Santa Catarina.
Em 2019, a própria Associação Brasileira de Consteladores, órgão que representa os aplicadores da prática, entrou com um pedido no CNJ para que fosse estabelecida uma regulamentação para a aplicação da prática no Judiciário. A ideia da associação é que, com regras, o direito sistêmico seria um ponto mais pacífico e resguardado pelo próprio órgão regulador.
O que o órgão defende é que haja requisitos mínimos para a atuação como constelador sistêmico, que envolva formação com uma carga horária exigida, por exemplo – é o mesmo que prevê o projeto de lei 4.887, proposto por deputados do PT em 2020 e que segue em tramitação na Câmara.
Só que o pedido no CNJ se voltou contra a própria constelação. Até agora, o placar está contrário aos consteladores. Por enquanto, só um voto veio a público: o do relator Marcio Luiz Freitas, que se opôs à regulamentação da prática e disse que ela deveria ser banida dos casos que envolvam violência doméstica. Em seu voto, Freitas ressaltou a falta de evidências, além de reforçar que ela se baseia em “um estereótipo de família absolutamente misógino” que, segundo ele, pode levar a episódios de revitimização nos tribunais.
O julgamento ainda segue em plenário virtual, e os votos serão revelados quando ele terminar. Se o restante dos votantes do CNJ seguir a opinião do relator, é possível que a constelação familiar, usada há mais de uma década nas Varas de Família do Brasil, acabe fortemente restringida.
Faz sentido: é inaceitável que uma terapia baseada em crenças, e não em evidências científicas, possa sair do âmbito privado e ser aplicada livremente na resolução de conflitos jurídicos – especialmente quando ela se baseia em preceitos machistas e homofóbicos incompatíveis com a Constituição.
Contribuiu com a reportagem: Raissa Romano Cunha, antropóloga da UnB e pesquisadora sobre o direito sistêmico.
Fonte: abril